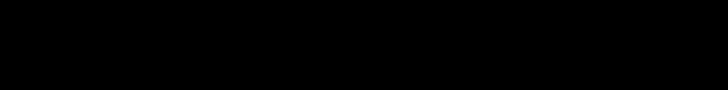Quando entrou em um dos salões da seção ulterior do Museu Nacional, Maxuel Caetano, 29, sabia que, em meio às cinzas e escombros, podia repousar o que sobrou de Sha-amun-em-su. A múmia da cantora-sacerdotisa que integrava o seleto grupo de amas virgens de Mut, a esposa do deus egípcio Amon, era uma das peças mais raras do Museu Nacional , em fase de reconstrução após o incêndio do último 2 de setembro. Em questão de minutos, ele e o colega Jefferson encontraram um esqueleto inteiro, deitado sob restos de um armário. O sarcófago datado de 750 a.C. e os vestígios do embalsamamento haviam sido totalmente consumidos pelo fogo. Mas não cabia lamúria. Os restos mortais estavam ali, em ossos chamuscados.
“Caraca, o Jefferson fez o maior escândalo”, recorda o bem-humorado Max, antes de imitar o amigo. “Eu não vou botar a mão nisso aí, li na Internet que dá feitiçaria”. O bioarqueólogo Murilo Bastos, especialista em ossos humanos que orientava os serventes de obra, ainda tentou explicar que se tratava de uma lenda, mas não conseguiu convencer Jefferson a ajudar no resgate da múmia. Os três integram a equipe de pesquisadores e operários que trabalha nas buscas pelo acervo, e foram os primeiros, em quase 2.800 anos, a ver Sha-amun-em-su de fato — privilégio que nem Pedro II, o dono da coleção, tivera. O belo sarcófago de madeira estucada e policromada era lacrado.
A peça era o xodó do imperador. Relatos dão conta de longas conversas mantidas com a múmia cantora, que permaneceu em seu gabinete até a Proclamação da República, quando foi incluída no catálogo museal. Foi um presente do quediva Ismail, do Egito, na segunda viagem de Pedro de Alcântara ao país, em 1876. O interesse por egiptologia começou ainda na infância, com a chegada de uma coleção adquirida pelo pai, Pedro I, no melhor do “jeitinho brasileiro”.
O monarca arrematou as relíquias escavadas no Templo de Karnak, durante a passagem de um comerciante italiano pelo Rio de Janeiro. Seu destino original era Buenos Aires, mas notícias de instabilidade política na Argentina o desanimaram a seguir viagem. Como a lista da alfândega não contemplava a permissão para a entrada de múmias no Brasil, a solução foi enquadrar o artigo como “carne seca”. Assim começou aquele que era o mais importante acervo egípcio da América Latina até cinco meses atrás. Só na sala onde Sha-amun-em-su foi resgatada, havia outras três múmias raras. Duas delas permanecem sob os escombros.
ESPERANÇA NOS ESCOMBROS
O resgate não é um processo trivial. Para que os operários limpem a área, a fim de permitir o início das obras de recuperação, é preciso fazer um pente fino no entulho, uma grande mistura de alvenaria e mobiliário destroçados com restos de peças milenares no meio. Nada pode ser simplesmente descartado. Uma primeira verificação é seguida de rigorosa peneiragem, necessariamente aprovada por um pesquisador. “As cerâmicas egípcias são muito parecidas com telhas. Com o tempo, passamos a identificar melhor, pelas curvas”, conta Max. “Uma telha tem várias ondulações, o vaso já é mais arredondado, com uma bordinha mais grossa e o fundo mais resistente”, detalha o operário de olhar cada vez mais acurado.
Cada setor de pesquisa tem suas prioridades, mas, em um primeiro momento, os trabalhos têm sido direcionados para viabilizar as obras emergenciais do Paço de São Cristóvão. Além do escoramento das estruturas fragilizadas, que punham em risco a equipe, é preciso construir um telhado que cubra todo o prédio para proteger das chuvas o que sobrou do acervo. Em fase final de construção, a mega estrutura ficará a 23 metros de altura e será suportada por 42 pilastras cujas bases, concretadas ao chão, exigem a abertura de espaços em toda a área do museu, inclusive no jardim interno.
O ritmo é ditado pelo avanço dos homens nos andaimes. Um deles é o baiano Eraldo Galvão, de 34 anos. O cansaço é tamanho que ele dorme sentado ao conversar com a esposa quando chega em casa. “Nossa responsabilidade é muito grande. Durmo e acordo pensando nessa obra”, conta o marceneiro. A queixa aparente contrasta com um sorriso largo. Especializado em projetos de restauração, Eraldo conhece o sentimento de sentir-se responsável pelo resultado final. “Toda vez que passo na Pinheiro Machado, olho para a cúpula do Palácio Guanabara e penso que tem dedo meu ali”, diz.
Desta vez, ele estava de férias no interior da Bahia quando soube, pela televisão, sobre o incêndio. “Fiquei muito chateado e, na hora, falei ao meu pai que torcia para pegar essa obra”, recorda. O convite para trabalhar no Museu viria dias depois, e também significou ficar mais perto da família. Antes, estava em Vassouras dedicado à recuperação de um casarão histórico.
Ele pede atenção à reportagem antes de entrar em casa, no bairro de Quintino, subúrbio do Rio. Ao abrir a pequena porta que revela uma sala abaixo do nível da rua, as gêmeas Ana Beatriz e Larissa, de oito anos, disputam com o agitado João Miguel, de três, o abraço no pai. O mais novo faz questão de dedurar que, outra vez, as irmãs assistiam à série infantil “Carinha de Anjo”. Além de ouvir as últimas sobre a trama, Eraldo tem que dar notas para apresentações de dança antes de contar em detalhes o dia na obra — as filhas querem falar tudo na escola. A paraibana Paula, sua esposa, diz que a dupla chegou a conhecer o antigo museu, mas, no futuro, as visitas terão outro significado. “Essa festa compensa qualquer cansaço”, diz Eraldo, que acorda às 4h50 de segunda à sábado em uma semana que ainda comporta três idas a uma igreja evangélica de Madureira.